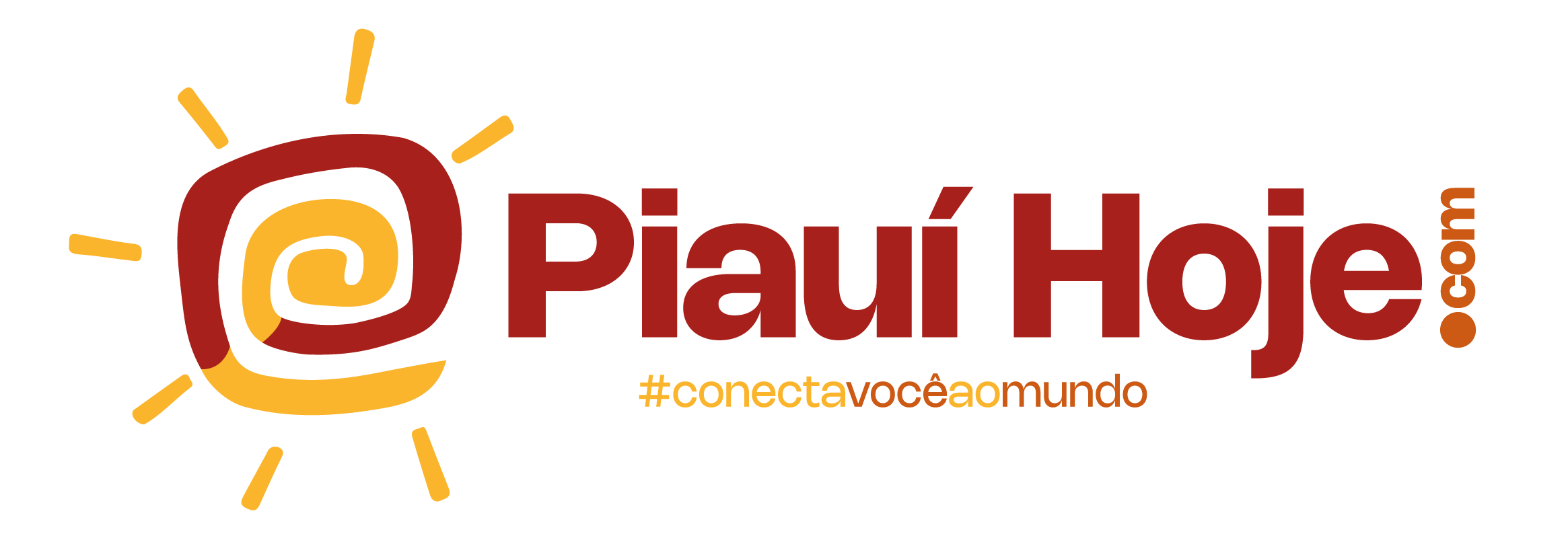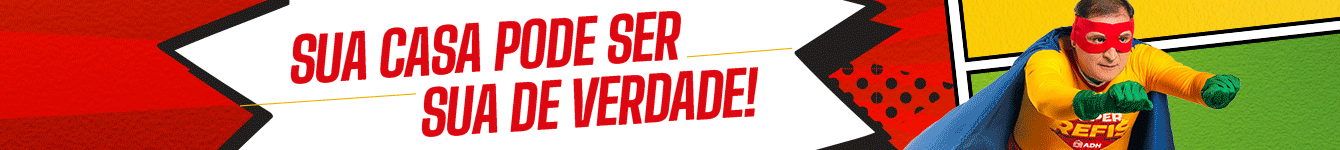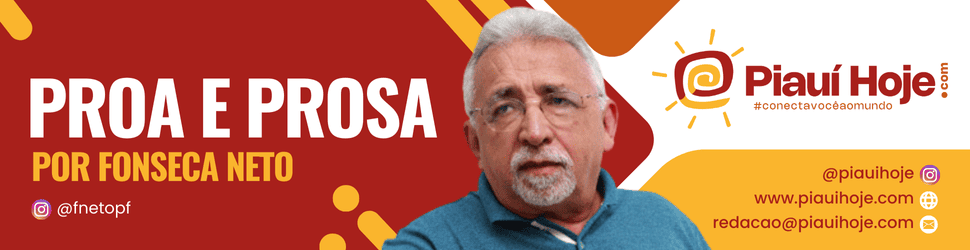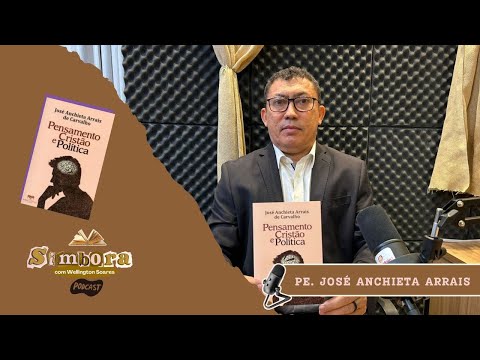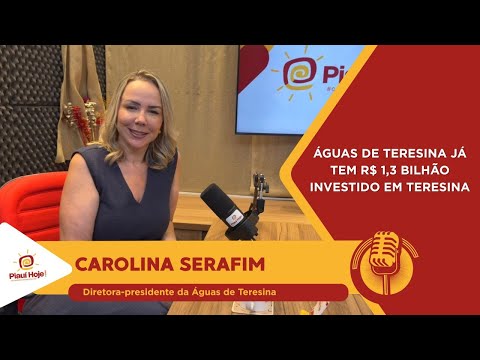Neste 13 de marco de 2021, além de habitualmente se falar uma vez mais sobre o combate no Jenipapo – há 198 anos –, há sinais de antecipação do que seriam as comemorações do bicentenário desse evento, no vindouro 1823.
O governador anuncia em TV local um “Conselho do Bicentenário”, fala-se também na edição de documentário filmado e outras iniciativas se ensaiam sobre o assunto.
Comemorações do tipo – em torno das chamadas “datas redondas” tidas por “históricas”– servem muito ao aguçamento de certas lembranças e agitam o palco das memórias e da historiografia.
No caso do episódio do Jenipapo, e do tema da propalada independência do Brasil, não é diferente: já se configuram, inclusive desde Brasília, cenários de disputa de narrativas e simbolismos, disputa de ”verdades”.
No Piauí, o entendimento que mais prospera sobre o combate no Jenipapo é que ali acontecera um lance carregado de “patriotismo” em aderência ao príncipe Pedro de Bragança, que então organizava um Império, continuando a monarquia portuguesa reinante.
Essa interpretação, porém, quando acentua a dimensão adesista do combate, incorre na sua insignificação enquanto potência de um movimento capaz de encaminhar a construção de uma efetiva independência do Brasil.
Entre outros episódios que compõem a mobilização independentista no Piauí, o enfrentamento do Jenipapo, pelo adensamento popular da ação combatente, é o mais revelador de uma vontade de liberdade como corolário da Independência.
O caráter popular demonstrado no movimento e os timbres de libertarismo do lance ora focado são os elementos mais carregados de sentido transformador nas lutas de décadas pela emancipação da América portuguesa em relação à Metrópole.
Uma questão que muito importa: aderir ao Príncipe Regente Pedro ou construir, com a força de milhões de nascidos no Brasil, uma comunidade nacional independente neste trópico, a exemplo do que já acontecera então na parte norte do continente e ao redor do próprio Brasil?
Por que se realça esse sentido de adesismo na ação dos piauienses? Trata-se de um modo calculado de afastar a compreensão do processo enquanto aspiração de liberdade real da maioria do povo. Os meros adesistas queriam, no máximo, uma separação do Brasil em relação a Portugal sem nenhum impacto na vida social comum, isto é, da maioria da população.
Há registros de que o Piauí de 1823 tinha em torno de 90 mil habitantes e menos de um quarto deles se poderia classificar na categoria étnica de branco. A maioria expressiva feita de africanos e índios, e sua descendência, população, enfim, de trabalhadores sem-terra e despojados socialmente de quase tudo mais.
A caracterização da luta no Jenipapo e no Piauí todo como mobilização meramente adesista, repita-se, é o enredo dos fatos que se dá no âmbito da preservação da “ordem” social então vigente. No essencial, ela nega a construção de um ente nacional realmente soberano no chamado concerto das nações.
Também se vê estudiosos ressaltando o que seria o caráter restrito à localidade desse combate isso justificando as evidentes omissões historiográficas sobre o Jenipapo quando se trata do exame contextual independentista.
Não, não tem restrito caráter local o acontecimento do Jenipapo. É fácil ver isso, quando se espana o silenciamento seletivo que a historiografia faz sobre ele. A mortandade não contestada de anônimas pessoas é reveladora. “Patriotas”? Creio dizer mais adequadamente que radicais sonhadores da Liberdade, que significa, até hoje, recusa à escravização e direito de ter um pedaço de chão para cultivar a sobrevivência.
A liberdade mencionada por fazendeiros, chefes militares de todos os graus e extrações, burocratas em geral, não é a Liberdade que move o coração e a alma dos socialmente despojados.
A Liberdade dos que não tinham Liberdade – ao contrário da “liberdade” dos donos de escravo e das terras – é que confere ao processo havido no Jenipapo seu maior relevo e interesse. Por que é necessário lembrar o combate no Jenipapo? Para advertir que essa luta é universal, emancipatória e precisa continuar.

Fonseca Neto
Mais conteúdo sobre: