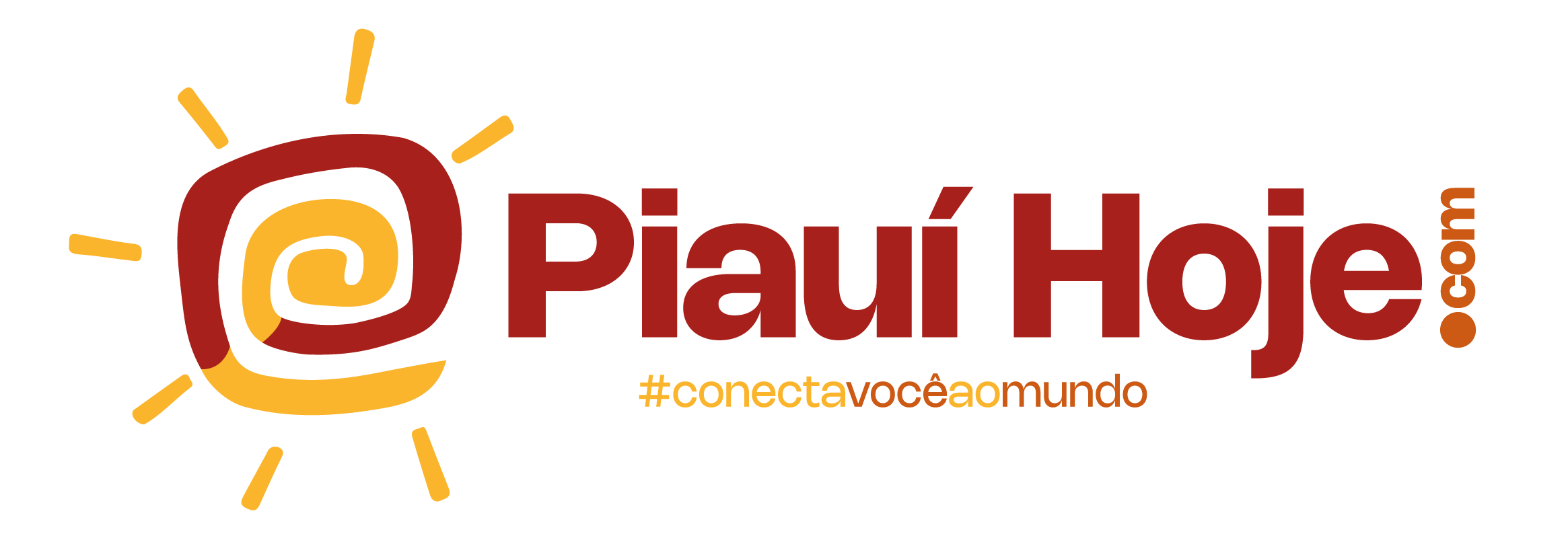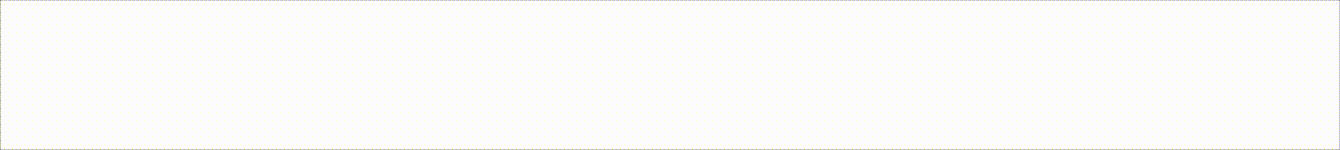A logomarca do atual Governo Lula faz uma convocação: “União e Reconstrução”. A ideia (subentendida) funcionou satisfatoriamente na campanha, mas não tem sido suficiente no Governo.
A União é frágil, como têm sido em todas as coalizões da redemocratização pós-ditadura. Já no segundo turno de 2022, os votos da candidata Tebet não vieram em massa para Lula; o mesmo aconteceu com os do candidato Ciro Gomes ou do PDT. E o convite de “não aliados” da campanha para o Governo não tem resolvido a questão.
A explicação não é difícil; difícil é a superação do problema. Tem a ver com a antiga e persistente inconsistência programática e orgânica dos partidos no Brasil.
A Reconstrução vai bem; mas, como é a retomada de políticas públicas dos mandatos anteriores do PT, não tem o impacto que teve na sua primeira versão. E mais: as principais “políticas públicas lulistas” se tornaram “políticas de estado”, isto é, são vistas agora como “obrigação de qualquer governo”. A Bolsa Família veio para ficar.
No debate após as eleições municipais de 2024 – e neste artigo continuo participado dele - vários comentaristas têm cobrado “novas propostas” ao Governo; além da reconstrução, é preciso renovação e ampliação. Outros têm ido mais longe: falta uma marca, ou melhor, um rumo ao governo. E alguns afirmam claramente: “falta um projeto para o país”.
Há um pressuposto nessas últimas afirmações e me identifico com elas. Sem Projeto e sem marca fica difícil mobilizar parte considerável da população para dar mais consistência ao governo e balizar os “arranjos” entre as forças políticas.
Ora, qualquer Projeto para um País tem que ser pensado a longo prazo. O “desenvolvimentismo” como projeto para o Brasil durou 50 anos (1930-1980), coexistiu com momentos autoritários, ditatoriais e democráticos. A defesa da democracia e de instituições mais sólidas tem sido a motivação nas últimas quatro décadas. Teve força para ampliar os espaços de participação – às vezes fragmentada - de diversos setores da sociedade civil. E resistiu a um período de tentativas de ruptura (2019-2023). Mas se sente ameaçada, pois conta agora com uma ofensiva ideológica e midiática da extrema direita.
Falta, então, dar forma e massificar o Projeto que, em boa parte, está esboçado na Constituição de 1988. Projeto sim, com P maiúsculo. É que sem uma expressão política e ideológico-cultural - sintetizada como “projeto nacional” (mesmo nos tempos de globalização) - é difícil dirigir o Estado e mobilizar a sociedade. Esse é o desafio de qualquer governo, em especial de esquerda, no mundo de hoje, sobretudo nos países “em desenvolvimento”, ou seja, que precisam aumentar a prosperidade e reduzir a desigualdade.
Repito: o Projeto é estratégico para a Nação, mas tem repercussão na formação de uma base social (bloco histórico, diria Gramsci) e na mobilização de apoio eleitoral. Exige negociação com setores empresariais, atenção às demandas das classes médias e priorização dos interesses das classes populares. José Dirceu tem dito que para uma mudança estrutural no Brasil um Projeto precisa ter continuidade em pelos menos três mandatos presidenciais, ganhando as três eleições, evidentemente.
Pensando aqui e agora, do ponto de vista estratégico para a Nação. Sem adesão a nenhum (neo)evolucionismo, não há como negar o caráter de “impulsionador” das revoluções tecnológicas na História. Politicamente, se destaca a afirmação de Marx de que “a luta de classes sempre foi o motor da história”. De fato, para o própria Marx, a história tem dois motores, pois “o desenvolvimento das forças produtivas” também tem um caráter impulsionador. E aliás é o fato histórico que exige mudanças nas “relações de produção”.
É a tese de Darcy Ribeiro em sua “antropologia da civilização” que tem como livro básico “O Processo Civilizatório”. As revoluções tecnológicas provocam “processos civilizatórios” com alcance cada vez mais amplo, sendo de alcance mundial desde as grandes navegações. E desde então, esses processos têm produzido sociedades centrais e periféricas, conforme a inserção de cada sociedade no processo.
Darcy Ribeiro desenvolveu uma teoria de longo alcance quando foi “imobilizado politicamente” no exílio, com a obsessão de entender o Brasil. Seu livro é de 1968 e ele pensava que a revolução que moldaria os processos civilizatórios na passagem do século XX para o século XXI, seria a Revolução Nuclear, pois a energia nuclear seria a fonte que substituiria os combustíveis fósseis e seria a base da nova tecnologia militar.
De fato, nosso tempo está sendo moldado pela Revolução da Informática (ou da Telemática, como acho mais adequado dizer). Nas palavras de Manuel Castells, o informacionalismo está redefinindo o industrialismo, o capitalismo e o estatismo.
O Brasil está inserido, pois, nessa era do informacionalismo. E precisa participar dela avançando em seu processo de inserção ativa, e não apenas de maneira reflexa. Talvez, num horizonte de 20 anos não atinja o nível de desenvolvimento central, pode avançar na atual situação de semiperiferia. A China conseguiu fazer essa transição para “um dos países centrais” em 40 anos.
O presidente Lula tem clareza sobre esse momento histórico. E essa é a “intuição ousada” do governador Rafael Fonteles sobre as mudanças que precisam acontecer no Piauí.
A inserção ativa nos processos desencadeados pela Revolução da Telemática passa pela adoção das tais 4G e 5G, como o agronegócio e os bancos (e ambos não querem ter um diálogo construtivo com o Governo) estão fazendo e em parte outros setores. Mas passa sobretudo pela reindustrialização (o vice e ministro Alkimin tem tentado isso), pelo avanço na infraestrutura, em especial ferroviária (a ministra Tebet tem defendido a expansão dessas redes para o Pacífico, em cooperação com países limítrofes do Brasil); e passa não só pela diversificação da matriz energética, mas pela boa utilização de suas potencialidades por uma robusta rede de transmissão. (O Piauí enfrenta esse problema: grande produtor de energia eólica e solar e não tem como usá-la para atrair mais rapidamente investimentos).
Outro ponto estratégico é a pesquisa científica e tecnológica. Alguns institutos especializados (Fiocruz e Butantã, EMBRAPA, por exemplo) têm tido uma boa produção. Mas a produção do conjunto de nossas universidades públicas é claramente insuficiente. Concentra-se em “temas pequenos” e resiste à integração com a estrutura produtiva e de serviços. É um dilema ideológico que tem efeitos políticos e econômicos. Ora, um governo de esquerda ou centro-esquerda, que historicamente está atuando no âmbito do capitalismo, tem que fazer uma mediação para que “interesses particulares” (capitalistas) recebam alguma ressignificação em favor de “interesses gerais”. (nacionais e sociais). Celso Furtado percebia isso com muita clareza. Florestan Fernandes também, sobretudo em sua produção e ação intelectual entre 1950 e 1969; depois passou a atuar como um “intelectual insubmisso”.
Nesse contexto se enquadra a questão das desigualdades regionais. A distância entre Nordeste e a média do país, em termos percentuais, continua a mesma, exceto em alguns indicadores sociais. Os Programas Sociais e a Previdência fazem circular mais dinheiro no Nordeste do que o crédito para investimento do BNDES, Banco do Brasil, CEF e BNB juntos. A GWM chinesa está construindo uma fábrica de carros elétricos em Iracemápolis, São Paulo (revista Carta Capital de 12.02.25, p. 30).
Iracemápolis, em 2022, registrou uma população de 21.967 pessoas. Praticamente a mesma de Valença do Piauí, São João do Piauí e Paulistana. Mas Iracemápolis fica a 386km da capital São Paulo e a 241km do porto de Santos. Este é o preço que o Nordeste paga pela falta de infraestrutura e de redes de transmissão de energia. Esse é um obstáculo ao ritmo que o governador Rafael quer imprimir a investimentos no Piauí.
O papel também estratégico da universalização e melhoria da educação básica é bastante consensual, embora muitas vezes, um consenso idealista e retórico. Temos avançado muito lentamente. Veja o caso da escola em tempo integral: conforme o Censo Escolar de 2024, dos 32.688.458 alunos matriculados em creches, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio das escolas municipais e estaduais, apenas 27,66 estudam em escola em tempo integral.
Cumprimos a meta do PNE, que era pequena (25%). O que tem de ousado na proposta do Governo do Piauí tem de tímido no Programa do MEC. Lula já percebeu: tem que enfrentar o corporativismo em relação a essa questão.
O Brasil não pode se contentar em crescer 3% ao ano; precisamos chegar a 5%. Não podemos ter apenas 19% de FBKF (Formação Bruta de Kapital Físico); precisamos chegar a 25%. Dos BRICS, a China e a Índia têm conseguido. (Vou voltar a este assunto).
Voltarei também a outros impactos na Revolução da Telemática: a automação e a perda da centralidade do trabalho, a globalização produtiva e cultural e o neoliberalismo, a redução do poder dos estados-nação. A esses aspectos se juntam a influência das mídias sociais como espaço de sociabilidades, os desafios da sustentabilidade ambiental (mudanças climáticas) e da emergência sociocultural da diversidade. São as mudanças histórico-estruturais, de longa duração, provocadas pela revolução da telemática.

Antônio José Medeiros
Mais conteúdo sobre: